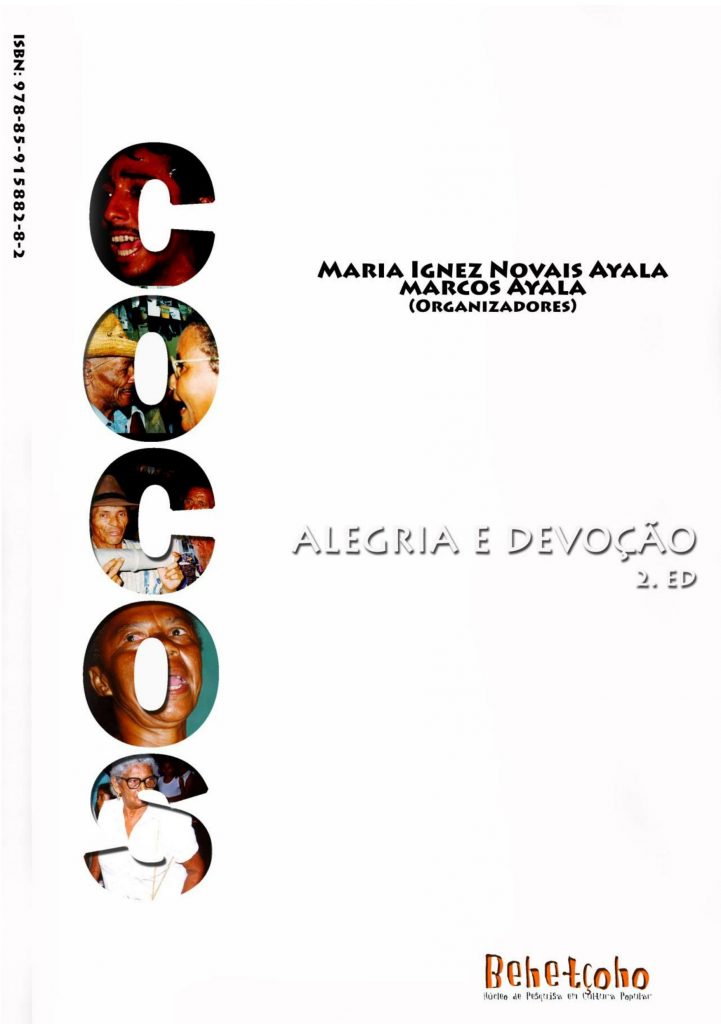APRESENTAÇÃO
Maria Ignez Novais Ayala
Marcos Ayala
Ouvimos um coco pela primeira vez na Vila das Palmeiras, na região da Freguesia do Ó, bairro da capital de São Paulo , em meados da década de 70, cantado por quatro matriarcas negras, responsáveis pela Festa de Treze de Maio, em louvor a São Benedito e em lembrança da libertação dos escravos, com ladainhas, rezas e danças reconhecidas como de negros — batuque ou samba de umbigada e samba-lenço — de que participavam intensamente. As quatro irmãs tinham idade próxima ou acima dos setenta anos e durante um intervalo da dança, em uma das últimas festas para a qual fomos convidados na casa da mais idosa — Dona Guilhermina — ouvimos um coco antigo que aprenderam quando crianças, provavelmente com o pai nascido na Bahia. A melodia da canção era um lamento que tinha por refrão:
Êh zueira
mangabeira não dá mais fulô
candeia
É cambito de caixa
cambito-ri-ri
papagaio novo papaga-ri-ri
piriquito novo piqui-ri-ri-ri
Espirito de santo espiri-ri-ri-ri
minha gente venham vê ôlô
cantá o meu coco gemedô.
Em seguida, vinham os versos que contavam a história daquele que se “casou com uma véia pra se livrar da fiarada”, em que se acumulavam situações de má sorte, sempre com um final desastroso, associado ao comentário do homem que contava a sua história. Sério e cômico, lamento triste e riso se achavam fundidos na medida perfeita da cultura popular brasileira. Aquele coco ficou ecoando em nós e não sossegamos até tê-lo gravado para aliviar nosso banzo, pouco antes de migrarmos para a Paraíba, há mais de vinte anos.
Daquela época ao conhecimento dos cocos ao vivo no bairro da Torre em 1988, passaram-se mais de dez anos, em que nossa experiência de cocos da Paraíba e de outros Estados do Nordeste só se fazia através de leituras, iniciadas com os estudos de Mário de Andrade, organizados por Oneyda Alvarenga. Entre os registros de Mário de Andrade no Rio Grande do Norte estava o coco ouvido na Vila da Palmeiras só que com outro refrão, acompanhado da observação: “É o romance tradicional português transformado em coco”. Em pesquisas anteriores de antigos compiladores do folclore no Nordeste como Pereira da Costa e Sílvio Romero aparece entre as parlendas.
O fato de um poema aparecer em uma e outra manifestação é frequente nesta cultura que desconhece fronteiras rígidas. A constatação de que um mesmo verso e melodia ou outros muito semelhantes foram encontrados com um intervalo de mais de sessenta anos, às vezes em locais distantes um do outro, permite falar não só de permanência, mas da existência de pontos de contato entre diferentes manifestações de cultura popular e seus integrantes. Estes elos podem ser encontrados no interior de mais de uma manifestação, como é o caso de uma mesma letra ser cantada ora no coco, ora na ciranda. Quando nos referimos a essas duas manifestações de música, canto, poesia e dança, é preciso lembrar que estamos diante de duas brincadeiras que, em geral, são encontradas juntas, pois no decorrer do coco também se dança a ciranda. Na maioria dos lugares abrangidos por esta pesquisa, a ciranda aparece como um descanso para o coco, sem se perder o movimento da dança em roda.
As permutas não acontecem apenas entre essas duas danças. Há ainda o trânsito entre atividades culturais diversas: há no coco versos iguais ou muito semelhantes aos do cavalo-marinho, aos das parlendas ou do “romance tradicional português” a que se referia Mário de Andrade, aos de quadrinhas; alguns cocos são cantados como pontos da jurema — ou será o contrário? O coco também pode incorporar versos de forró e de outros ritmos da indústria cultural ou vice-versa. Os participantes ativos desta cultura transitam entre o coco, o mamulengo, o cavalo-marinho… Como se percebe pelo início dessa apresentação, a recorrência de versos e melodias, do mesmo modo que a atuação em mais de uma prática cultural, é comum em outras danças e brincadeiras, tanto no Nordeste como em São Paulo.
A tomada de contato com o coco no histórico bairro da Torre (a Torrelândia dos anos 20 e 30), organizado por cantadores e dançadores de lá, alguns deles alunos nossos na Universidade Federal da Paraíba – UFPB, nos animou a procurar essa dança tão fascinante por seus cantos, ritmo, alegria e irreverência. Afinal, esta festa toda ruidosa se fez na rua em plena Sexta-Feira da Paixão; enquanto devotos católicos faziam nas igrejas a vigília do Senhor Morto, na rua, descendentes de negros, possivelmente de antigos escravos, faziam a vigília do Judas, pendurado em um poste e que seria espancado e destroçado pelas crianças na manhã do Sábado de Aleluia. Cantadores, dançadores e demais presentes (que também eram puxados para a roda) participavam alegremente, bebendo cachaça e cerveja, cantando e dançando cirandas e cocos.
Em 1991, pudemos voltar àquele bairro e presenciar novamente aquela demonstração sério-cômica de religiosidade. O coco da Torre não contava naquele dia com a presença de uma dançadora respeitada por todos daquela parte do bairro, Dona Joinha, que havia mudado para um dos muitos conjuntos residenciais da cidade, distante dos bairros centrais. Mesmo assim, participamos dos cocos e da vigília do Judas, comendo uma fava feita por moradores em um caldeirão enorme sobre um braseiro disposto na calçada, acompanhada de cerveja e cachaça.
A partir de 1992, a situação do bairro era outra, cada vez mais deixando de ser um local de moradia de trabalhadores pobres para abrigar as lojas de material de construção, que hoje ali predominam. Contudo, procurando, ainda são encontrados cocos por lá, só que em vez de estarem na rua, auxiliando a passagem das horas da vigília do Judas, estão durante o ano todo nas casas de cultos afro-brasileiros mesclados a pontos de jurema ou se mantêm na memória de dançadores, cantadores e admiradores, que de tempo em tempo, durante o mês de São João, resolvem retomar a brincadeira, dançando cirandas e cocos.
Foi esta a motivação inicial da pesquisa: verificar a existência de uma prática cultural de poesia, canto e dança numa sociedade em transformação. Com o desenvolvimento da pesquisa de campo, foram surgindo muitos registros da brincadeira do coco (como é nomeada a dança por seus participantes) e indicação de outras localidades na Paraíba e em Estados vizinhos em que pode ser encontrada, muitas das quais ainda não foram visitadas pelos pesquisadores. Verificamos, nesses anos de pesquisa ininterrupta, que os cocos são encontrados em diferentes contextos, desenvolvidos principalmente por descendentes de negros.
O acesso aos registros feitos nas décadas de 20 e 30 está permitindo visualizar o que tem ocorrido com uma manifestação popular ao longo do Século XX. Esta é uma experiência inédita no Brasil. Dispor de uma farta documentação efetuada em épocas distantes e distintas em uma mesma região, apoiada em metodologias de pesquisa que priorizam a coleta de dados in loco, revelando nomes de autores e intérpretes, dando informações sobre os locais em que foi feita a pesquisa e em que condições.
Mário de Andrade, nos anos vinte, e a equipe de pesquisadores da Discoteca Pública Municipal de São Paulo, dez anos depois, adotaram procedimentos extremamente avançados para a época e singulares. Desconhecemos a existência no Brasil de qualquer grande recolha de documentos orais antes da década de 40 e 50 com tal rigor científico. O método de transcrição ressaltado nas publicações organizadas por Oneyda Alvarenga, a partir das pesquisas desenvolvidas por Mário de Andrade e pelos integrantes da Missão de Pesquisas Folclóricas da Discoteca Pública Municipal de São Paulo, leva em consideração a fala, a oralidade. O método e o rigor científico, presentes nessas pesquisas, impulsionaram o estudo exaustivo que temos desenvolvido junto com alunos de graduação, de pósgraduação e recém-graduados da UFPB.
Os cocos vêm sendo estudados desde abril de 1992, na UFPB, inicialmente, pela equipe de pesquisadores do projeto integrado “Representação do oprimido na Literatura Brasileira”, através do subprojeto “A situação atual dos cocos na Paraíba”. Esta pesquisa recebeu financiamento do Centro de Estudos Afro-Asiáticos/Fundação Ford durante um ano, entre 1992 e 1993, e do CNPq de 1992 a 1996, ininterruptamente. Atualmente os estudos continuam a ser desenvolvidos no LEO (Laboratório de Estudos da Oralidade) por pesquisadores do projeto integrado “Literatura e memória cultural: fontes para o estudo da oralidade”, com apoio do CNPq, desde março de 1996. Recentemente conta-se com o apoio financeiro do PROIN/CAPES para o desenvolvimento do projeto “Novos procedimentos para captar as articulações entre literatura e sociedade nos textos orais e escritos: uma experiência de renovação do ensino de Teoria da Literatura no Curso de Graduação em Letras”, de autoria de Maria Ignez Novais Ayala e de Andrea Ciacchi, durante o período de outubro de 1998 a dezembro de 2000, no Curso de Graduação em Letras da UFPB. Esta proposta alia experiências de pesquisa e ensino, contando com a participação de alunos de graduação e de pós-graduação que integram o grupo de trabalho do Laboratório de Estudos da Oralidade, os quais, junto com os professores responsáveis por este projeto de renovação de ensino, estimulam os alunos regularmente matriculados na disciplina Teoria da Literatura a refletir sobre as relações de literatura e sociedade, bem como sobre as questões oral/ escrito na Literatura Brasileira e produção oral popular através de discussões em aulas e de materiais instrucionais que estão sendo produzidos pela equipe do LEO, com o objetivo de ampliar a reflexão crítica e a percepção dos alunos para as diferentes tradições literárias e culturais existentes no Brasil. A publicação deste livro foi incluída neste projeto financiado pelo PROIN/CAPES por se tratar de uma coletânea de ensaios produzidos por professores, alunos de graduação e de pós-graduação, a qual busca apresentar a cultura popular no que esta tem de complexo e de singular: uma cultura que luta por manter sua identidade em um mundo planificado e padronizado; que se alicerça em relações comunitárias em um mundo excessivamente individualista; que tem sua força na alegria, em um mundo de intensa exclusão e extermínio de populações pobres; que apresenta uma estética própria, não fundamentada no personalismo da autoria e na imposição da novidade; que busca viver de novo versos, melodias e canções, cujas marcas ganham uma duração temporal que desafia fronteiras, do mesmo modo que podem trazer, para esse imaginário sem tempo definido, dados que em algum momento foram circunstanciais.
O que apresentamos, através desta publicação, são, portanto, alguns dos resultados de uma pesquisa coletiva, na qual se busca captar as difíceis fronteiras de uma manifestação cultural. Os cocos assumem várias feições, podendo se configurar como canto acompanhado apenas por palmas e batidas dos pés; canto com acompanhamento de pandeiro ou ganzá; só texto escrito, quando integra a literatura de folhetos; dança acompanhada de versos cantados ao som de bumbos, ganzá e outros instrumentos de percussão; cantos integrados a cultos religiosos afro-brasileiros. Deixaremos de lado, por enquanto, os cocos encontrados na indústria cultural (cantados por verdadeiros coquistas ou por cantores e músicos que criam a partir dos versos populares ou deles se apropriam) e também a dança encontrada em grupos parafolclóricos na qual impera o reducionismo junto a um discurso salvacionista dominante. Trataremos basicamente da dança, da brincadeira do coco que encontramos em diferentes localidades da Paraíba, bem como das discriminações e interferências sofridas.
É preciso ressaltar que nossos estudos têm como característica básica a interdisciplinaridade. Recorremos a métodos e técnicas de pesquisa de diversas áreas, tais como Sociologia, Antropologia, Literatura, História, Música, Fotografia, Vídeo e Cinema, ajustando-os às condições específicas de nossa investigação, com o objetivo de melhor contextualizar os cocos. Partindo dessa proposta e tendo em vista os cocos como manifestação cultural popular de dança, música e poesia oral improvisada, a equipe de pesquisadores, inicialmente formada por bolsistas de Letras, ampliou-se com a participação de professores e alunos com experiência nas outras áreas já citadas.
A possibilidade da junção de múltiplos procedimentos teóricos e metodológicos, através dos pesquisadores com diferentes formações, permitiu a concretização de análise mais abrangente que desse conta da complexidade da manifestação cultural em estudo. Assim sendo, a interdisciplinaridade se distingue do que entendemos por codisciplinaridade, ou seja, a reunião de vários estudiosos de áreas conexas, cada qual dando o ponto de vista de sua especialidade sobre um mesmo assunto, não existindo obrigatoriamente uma ligação entre eles, nem uma experiência diversificada, compartilhada por todos. Decidiu-se que, nesta pesquisa sobre os cocos, todos participariam de todas as etapas da investigação: coleta de dados através de pesquisa de campo (anotações e registros sonoros, fotográficos ou audiovisuais), de sua organização, análise e interpretação.
Muitos poderiam afirmar que a pesquisa realizada por nossa equipe representa um resgate da cultura popular. Mas isso não é verdade. Não é necessário resgatar os cocos da Paraíba e demais Estados nordestinos; esta brincadeira está bem viva e atuante, sendo encontrada em muitos lugares. O que ocorre com a brincadeira do coco e com outras manifestações culturais populares, e em particular as afro-brasileiras, é que muitas vezes elas são pouco visíveis, mesmo quando realizadas nas ruas e praças; ou então são ignoradas, consciente ou inconscientemente, apesar de ocuparem locais públicos e serem bastante visíveis — e audíveis. É essa invisibilidade ou recusa a ver e ouvir que propicia, com muita frequência, o surgimento daqueles que acreditam no desaparecimento desta ou daquela prática popular e, consequentemente, na urgência de se fazer o seu resgate.
Alguns estudos, aqui publicados, tratam de locais, onde se encontrou apenas a memória da brincadeira conservada por antigos praticantes ou o canto e a dança restritos a alguns cantadores e dançadores, que, apesar de saberem cantar, dançar e tocar, não encontram as condições necessárias para terem a brincadeira do coco como atividade cotidiana regular. Em Pilar, encontramos uma cantadora de cocos e cirandas que por uma série de razões (entre elas, o casamento e a opção religiosa — tornou-se evangélica) conserva seus lindos cantos apenas na memória. Também na Torre não temos mais notícia da realização da brincadeira do coco (embora os cocos ainda sejam cantados, em outro contexto), mas esta não é a regra dos casos abrangidos pela pesquisa, pelo contrário. Pode-se falar, sim, de transformações econômicas, sociais, culturais, que afetam esta manifestação de cultura popular, muitas vezes dificultando sua realização, mas nada que ponha em risco a existência daquela atividade — seus participantes não são passivos, incapazes de responder às alterações ocorridas, mas sujeitos capazes de não só reagir, mas também de tomar iniciativas para mudar as condições sob as quais vivem, bem como para modificar sua brincadeira, quando consideram necessário.
Muitos dos estudos aqui reunidos tiveram suas primeiras versões apresentadas em encontros científicos ou divulgadas em periódicos. Os cocos integrantes da coletânea que constitui a segunda parte desta publicação foram gravados em diversos locais onde a brincadeira costuma ocorrer, ou seja, nos contextos aos quais estão habituados seus cantadores e dançadores.
Os resultados aqui reunidos existem devido à determinação de todos os componentes da equipe que, muitas vezes, puseram a pesquisa como prioridade, deixando em segundo plano a esfera familiar em sábados, domingos e feriados, quando é possível encontrar dançadores e cantadores, e em datas maiores como o São João, seguramente a época mais significativa de festejos do Nordeste. A eles, o nosso agradecimento.
Também devemos agradecer a Flávia Camargo Toni, a José Eduardo Azevedo e às instituições que colaboraram no desenvolvimento deste trabalho.
Instituições:
Universidade Federal da Paraíba
Centro de Estudos Afro-Asiáticos/Fundação Ford
CNPq
PROIN/CAPES
Discoteca Oneyda Alvarenga do Centro Cultural São Paulo
Alunos e bolsistas participantes da pesquisa:
Adriano Fernandes de Carvalho (Graduação em Letras — bolsista IC/ CNPq de 04/94 a 07/95 e de 10/96 a 02/98.)
Ana Cristina Marinho Lúcio (Graduada em História — bolsista APB/ CNPq de 04/94 a 02/96; atualmente é doutoranda em Letras com bolsa da CAPES)
Andréa Mesquita Guerra (Graduação em Letras — bolsista IC/CNPq de 02/92 a 02/94)
Clarice Cabral (Graduação em Relações Públicas — atuando de 03/96 a 01/99, inicialmente como voluntária e depois como bolsista IC/PIBIC)
Cleomar Felipe Cabral (Graduação em Ciências Sociais — bolsista IC/ PIBIC a partir de 02/99)
Climério de Oliveira Santos (Graduado em Música — bolsista APB/CNPq de 04/94 a 02/96)
Denize Barreto Rocha (Graduada em Letras —bolsista APB de 11/90 a 12/92; auxiliar de pesquisa em 1993)
Diógenes André Vieira Maciel (Graduação em Letras — bolsista IC/CNPq de 10/96 a 09/99)
Edielson Jean da Silva Nascimento (Graduado em História — bolsista APB/CNPq de 04/94 a 02/96)
Esmeraldo Marques Pergentino Filho (Graduação em Música — voluntário de janeiro a setembro de 1999; bolsista IC/CNPq a partir de outubro de 1999)
Estelizabel Bezerra de Souza (Videasta. Graduada em Artes — bolsista APB/CNPq de 03/97 a 02/98)
Éverton Barbosa Correia (Graduação em Letras — bolsista IC/CNPq de 06/94 a 07/96)
Francisco Fernandes (Graduação em Música — voluntário em 1992)
Gilberto de Sousa Lucena (Graduado em Letras — bolsista APB/CNPq até 12/92; atuou como auxiliar de pesquisa em 1993)
Henrique Jorge Pontes Sampaio (Graduação em História — voluntário; auxiliar de pesquisa; bolsista IC e APB/CNPq, atualmente conclui mestrado em Ciências Sociais. Atua na pesquisa desde 05/92)
Jimmy Vasconcelos de Azevêdo (Graduação em Letras — bolsista IC/ PIBIC de 03/93 a 07/95; IC/CNPq de 08/95 a 02/96)
João Silva de Carvalho Filho, João Balula (auxiliar de pesquisa de maio a julho de 1992)
Josane Cristina Santos Moreno (Graduação em História — bolsista IC até 11/92; bolsista APB/CNPq de 01/93 a 02/94)
Josiane Telino de Lacerda (Graduação em Letras — bolsista IC/CNPq de 08/97 a 09/99)
Laurita Caldas dos Santos (Graduação em Letras — bolsista IC/CNPq de 09/95 a 07/97)
Luiz Armando Costa (Graduado em Letras — bolsista APB/CNPq de 03/93 a 02/95)
Magno Augusto Job de Andrade (Graduação em Música — voluntário em 1998; bolsista IC/PIBIC a partir de 08/99)
Marinaldo José da Silva (Graduação em Letras — bolsista IC/CNPq; voluntário; atualmente mestrando em Letras. Desde 03/96 atua na pesquisa)
Mônica Martins Pereira (Graduação em Letras — bolsista IC e APB/CNPq de 08/92 a 02/97)
Péterson de Carvalho Finizola (Graduação em Letras — bolsista IC/PIBIC de 08/96 a 11/97)
Raimundo Cassiano Ferraz(Graduação em Letras — bolsista de de IC/ CNPq de 04/94 a 08/95)
Ricardo Jorge Nóbrega Costa (Fotógrafo. Graduação em Artes — voluntário; e depois bolsista IC/CNPq. Atuou de 1994 a 1995)
Rubens Justino Ferreira (Graduação em Música — bolsista IC/PIBIC de 12/97 a 08/98)
Saneide Maria Pereira (Graduação em Letras — voluntária entre maio e junho/92; bolsista IC/PIBIC de 07/92 a 02/93)
Tânia Maria Pereira (Graduação em Letras — bolsista APB/CNPq no período de 08/91 a 07/93)
Werber Pereira Moreno (Graduação em História — voluntário em 1992; bolsista APB/CNPq 01/93 a 02/94) João Pessoa, 19 de abril de 1999